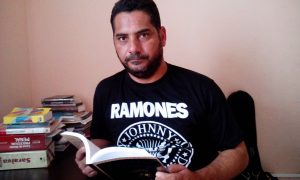Arquivos mensais: abril 2025
SOBRE UMA QUESTÃO DO SISTEMA DIFUSO NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
Mauro Cappelleti afirma que o Controle de Constitucionalidade é apenas um aspecto, o mais importante, da Jurisdição Constitucional. Ousamos discordar. Deve-se entender o controle de constitucionalidade como mais amplo do que a Jurisdição Constitucional. O controle de constitucionalidade envolve a participação de todos os poderes e formas organizativas societárias, enquanto que a Jurisdição Constitucional envolve o exercício exclusivo da Jurisdição.
No que concerne ao sistema difuso na jurisdição constitucional, emerge questão processual central acerca do modo de propositura da questão constitucional, isto é, do incidente de inconstitucionalidade.
Segundo lição essencial de Ovídio A. Baptista da Silva, desde os atos postulatórios até a sentença, o processo é feito de questões que constituem o objeto do processo e constituem o limite dentro do qual se exerce a jurisdição. Muito embora diga que ficam no plano lógico, no âmbito da subsunção, no sistema difuso, tem correlação profunda com o pedido principal e ao provimento solicitado ao Estado-Juiz.
Afirma o mestre:
“A declaração incidental é uma demanda que tem por fim a obtenção de uma sentença sobre a chamada questão prejudicial, de que depende a existência da pretensão contida na demanda prejudicada.’’[1]
Depreende-se, portanto, que a questão prejudicial é a questão central cuja decisão depende do enfrentamento de uma questão apresentada como fundamento- questão prejudicada. Nesses casos, a coisa julgada não se estende à questão prejudicada na medida em que o Juiz a conhece de maneira incidente e não de maneira principal, podendo, inclusive, a questão ser deduzida novamente em outra relação jurídico-processual se não houver decisão com eficácia geral sobre a questão.
Surge, então, a problemática, não debatida pela dogmática constitucional nem pelos processualistas, sobre a natureza da decisão, em sistema difuso, que conhece da questão incidental.
O SupremoTribunal Federal lança mão da expressão transcendência dos motivos determinantes e labora em erro. A sentença tem três elementos: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É regra consolidada que só faz coisa julgada a parte dispositiva e, podemos acrescentar, referente à parte da questão prejudicial. Os motivos determinantes não são transcendentes no sentido de vincular. Podem até ter efeito persuasivo para outras decisões figurando como norte argumentativo, mas, não estando inseridos na parte dispositiva, não tem o condão de vincular as partes nem de serem dotados de eficácia geral.
Poderiam os códigos, ao regular o incidente de inconstitucionalidade nos âmbitos dos tribunais, conferir à decisão que resolve a questão incidente a força de coisa julgada? Não. Porque seria uma alteração no sistema de competência gizado na constituição. Portanto, enquanto não houver decisão em sistema concentrado sobre a questão apresentada incidentalmente, é possível deduzir a matéria dentro do arco possível de controvérsia que, conforme Chaim Perelman, caracteriza o direito. Preferimos chamar de conflito de interpretação, numa referência à gênese da hermenêutica.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.
[1] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil, volume 1: processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 311.
SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO IMPEACHMENT[1]
A Nelson Werneck Sodré, na comunhão dos marxistas e comunistas ortodoxos
As incertezas, que pairam sobre a natureza jurídica do Impeachment, tem a ver não com a abstração que se atribui às normas jurídicas que o regula, mas aludem à complexa urdidura do exercício de poder nas democracias modernas.
Monstesquieu já tinha salientado que a dinâmica do poder exige a moderação enquanto técnica que limita o poder internamente, e nas relações com a ambiência, isto é, a sociedade civil.
Escreve Louis Althusser:
“A moderação é outra coisa: além do respeito à legalidade, é o equilíbrio entre os poderes, isto é, a partilha de poderes entre as autoridades constituídas, e a limitação ou moderação das pretensões de uma autoridade em relação ao poder de uma outra.”[1]
Nas relações internas, há um conjunto de regras que regulam a atuação estatal, pelo devido processo legal, e a necessidade de respeitar o sistema de competência. Portanto, duas questões sobressalentes nas sociedades modernas: o agir estatal obedece ao quadro normativo vigente, inexoravelmente; há divisão jurídica do espectro de ação que cabe a cada poder e a cada órgão estatal.
Toda tessitura constitucional serve para garantir a paz como conceito político essencial.
Já escrevemos, na obra ‘’Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade’’, que o sentido de um termo é alcançado em termos de consciência prática.[2]
Michel Troper, ao analisar os usos da expressão ‘’separação dos poderes’’, declina:
- Uma regra negativa que veda a possibilidade de atribuir toda função jurídica do Estado a um só órgão;
- Um princípio segundo o qual autoridade deve ser especializada e independente;
- Um sistema no qual a autoridade é somente especializada, mas não independente;
- Um sistema no qual os órgãos são independentes sem serem necessariamente especializados;
- Um sistema no qual a autoridade é submetida a um certo balanceamento;
- A repartição de competência em um sistema federal;[3]
Fazendo uma síntese das lições do constitucionalista italiano, podemos definir a meta –regra das separações dos poderes como um conjunto de regras que reparte, mediante a distribuição de competências, o poder em funções especializadas e estrutura um balanceamento entre as funções erigidas em mecanismo de defesa da vontade geral, da liberdade e da paz social.
É nesse engajamento (enjeu) que o processo de impeachment se revela e que se entremostra de maneira insofismável a natureza dos crimes de responsabilidade.
É um sofisma que o impeachment é um processo de natureza política definido por critérios políticos.
O processo de impeachment é de natureza jurídica e se define pelas normas que tipificam, com rigor, os crimes de responsabilidade e que consagram o devido processo legal substancial.
O direito internaliza conteúdos de várias ordens e, em sendo a validade conurbação interna ao direito, a questão reflexionada torna-se jurídica e deve ser arrimada na tipicidade[4], que caracteriza o atuar do direito em uma Democracia.
Os crimes de responsabilidade são tipificados e configuram situações complexas que conflagram crises inerentes ao exercício do poder e do devido processo legal.
Os crimes de responsabilidade, em geral, condensam situação de esgarçamento da moderação inerente à separação dos poderes, de erosão do sistema de competência, que, ao final, levam à concentração teratológica de poderes e a destruição dos direitos, garantias e liberdades democráticas.
Os crimes de responsabilidade afetam o núcleo do poder que, desprovido das bitolas e freios legais, desanda na opressão, na dominação e na corrupção do conceito de soberania, interna e externamente e da corrosão do direito enquanto solda das relações sociais.
Nesse contexto, pode-se concluir que o impeachment é um processo gravoso em razão de graves questões de Estado e, portanto, deve-se revestir da tipicidade e do devido processo legal substancial, evitando-se, ao mesmo, a condescendência com governos corruptos e corruptores e a perseguição de políticos libertários.
O processo de Impeachment é um rigoroso processo de natureza punitiva e se baseia no longevo topos, conquista civilizatória: não há crime sem lei penal anterior. Portanto, atinge todos os que exercem cargos articulados à estrutura central de poder estatal.
Por: Luís Eduardo Gomes do Nascimento, Advogado e Professor da UNEB.
[1] Texto elaborado a partir de conferências e aulas de direito constitucional.
[2] ALTHUSSER, Louis. Montesquieu, la politique et l’histoire, PUF, 1959, p. 104.
[3] NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024, p. 40.
[4] TROPER, Michel. Le nuove separazioni dei poteri. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 9-10.
[5] Sobre a validade como criação da ordem jurídica, ver: NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. Do discurso retórico da legalidade à construção societária da legalidade. Curitiba: CRV Editora, 2024.